


Fuçando antigos arquivos, encontrei uma bela mensagem sobre os doidos.
Deus gosta dos loucos, diz o texto. E cita diversas passagens bíblicas, como Moisés levantando o cajado, mandando o mar abrir-se para o povo judeu passar, e passaram todos incólumes.
Fui lendo e pensando em tudo que tenho ouvido sobre loucura e conclui que loucos são os outros.
Um dia, uma colega chegou até mim e disse em tom confidencial: Acho que Maristela (nome fictício) ficou doida. Eu respondi no mesmo tom: Querida, de um tempo pra cá, cheguei à conclusão de que todos são loucos, menos eu. Ela afastou-se sorrindo e eu fiquei meditando: ela deve estar pensando que a louca sou eu.
Basta uma pessoa ser diferente de nós, pensar diferente, ou ser ativista de alguma causa, que é logo tachada de doida. Muita gente diz: Você é doida, quando fica sabendo que vou a Terra Vermelha à noite, cumprindo cronograma de trabalho voluntário na educação. Doida, por quê? Não andam emperiquitadas de joias pelas ruas, com tanto perigo? Não tem assalto em plena Henrique Moscoso ou Hugo Musso à luz do dia? E andar na rua a pé ou de bicicleta falando ao celular? Quem vai a Santiago de Compostela a pé era sempre tachado de doido. Agora, não mais, virou moda. Se virou moda, é chique.
Tenho diversos amigos doidos. E são os melhores, porque fazem coisas excelentes, como trabalhar com pastoral carcerária, em programas de leitura em presídios, escrever coisas fabulosas, cuidar de filhos e outras crianças especiais, sem esperar qualquer recompensa a não ser o bem-estar das pessoas cuidadas.
Hoje, recebi um vídeo interessante e, diante de tantas notícias e vídeos falsos, as chamadas fake News, fui pesquisar sobre o assunto e vi que estava na mídia, mesmo. Então, a história é verdadeira. Trata-se de um homem analfabeto, que reside no interior da Paraíba, mais precisamente em Lagoa Nova, que inventou um combustível à base de água para sua moto, em face da escassez de gasolina na época da greve dos caminhoneiros. Um analfabeto, imagine!
As pessoas dirão: mais doido impossível. Eu diria: que inteligência rara! Normalmente os muito inteligentes também são tachados de doidos. Aliás, é uma forma de reduzir o valor da pessoa. Doido é doido. Ninguém se importa com doido. Ah! É doido. E pronto! Deve ser por isso que Giseli Suave (“Estou onde não penso. Penso onde não estou”) diz que não é doida. Ela afirma, por exemplo, que (…) doido é o que vê um analfabeto e acha normal”.
Uma das minhas amigas ditas doidas um dia me contou que estava falando sobre mim em casa e o filho perguntou: é aquela sua amiga doidinha? Fiquei muito feliz com isso. Sinal de que me considera uma pessoa diferente ou que faz a diferença. Para mim, seria isso. Não sei se quem disse pensou assim, ou: só faz loucuras. Agora, ter a fé desse povo da Bíblia… é querer demais, não?
Moisés, que mandou o mar abrir-se, Isaías que parou o sol com suas orações, Josué que rodou sete dias em volta da Cidade de Jericó até cair as muralhas, Daniel que ficou quietinho na jaula de leões famintos.
E Jesus, que mandou parar os ventos e o mar ficar quieto? E disse: levanta-te e anda? E jogou as mesas e mercadorias dos vendilhões do templo? E protegeu a mulher adúltera?
E o inventor de algo raro? O mundo precisa de doidos.
Desses doidos maravilhosos que só fazem coisas incríveis.
Você gostaria de ser um doido assim?
Maria Francisca – novembro de 2018

“Roubaram a bicicleta de Vavá à porta de uma farmácia na Glória” foi a manchete do Jornal “A Gazeta” há 50 anos, registrada um dia desses.
Lendo a notícia, fiquei meditando sobre nosso tempo, com a criminalidade à solta. Imagine se um dito roubo de uma bicicleta seria manchete?
Aí, como disse Hermes de Aquino, em “Desencontro de Primavera”, no pensamento a gente voa, lembrei-me de um fato envolvendo bicicleta.
Quando juíza em Belo Horizonte, presidi uma audiência em que tanto patrão como empregado eram quase miseráveis. É como costuma dizer a colega Wanda: é a luta entre o roto e o esfarrapado.
Não me lembro do valor postulado na ação. Era pouca coisa. Pobre não tem muito a pedir. É humilde até nisso.
Pois bem. O empregador não tinha dinheiro, não tinha nada. O comércio, se é que podemos chamar aquele botequim de periferia de comércio, fechou por falta de tudo. O reclamante lembrou-se de que o reclamado tinha uma bicicleta velha e afirmou que receberia o veículo como pagamento. A tal bicicleta, então, foi entregue ao dito credor.
Alguns dias depois, retorna o reclamante quase chorando: o patrão encontrou-se com ele na rua e tomou sua bicicleta…
Nesse caso, ninguém ficou sabendo qual era o roto e qual o esfarrapado. Ou melhor, o empregador era mais esfarrapado, porque nem honrou o compromisso assumido.
Não sou perfeito
Estou ainda sendo feito
E por ter muito defeito
Vivo em constante construção
(Lamento dos Imperfeitos. Padre Fábio de Melo)
Um dia, passando minhas compras no caixa de um supermercado, observei os uniformes diferentes das moças que atendiam. Curiosa, perguntei o motivo. A empacotadora, virou as costas e vi escrito: Aprendiz. Ah! Eu também sou aprendiz. Aprendiz? Elas esperavam minha resposta. Eu completei: de feiticeira. Elas riram. Perceberam a brincadeira, claro. Eu aproveitei pra dizer: na vida, todos somos aprendizes. Basta termos a mente aberta ao mundo ao nosso redor. Aprendemos todos os dias, acrescentei. Ambas ouviram atentas e concordaram.
Fui professora de ensino fundamental e médio por um bom tempo, já que minha formação inicial foi magistério. Deixei essa bela profissão, porque a minha sobrevivência estava em jogo. Não tinha dinheiro nem sequer para comprar um agasalho para o frio, ou um sapato, quando o antigo rasgava. Já andei de chinelo e agasalho emprestado. O Estado atrasava demais o pagamento e os professores ainda tinham a obrigação de pagar (a palavra era esta: pagar) caixa escolar. Era estabelecido um valor e o professor pagava. Ninguém queria saber de onde vinha o dinheiro. E alguém podia reclamar? Vivíamos na ditadura.
Vejo que hoje a situação continua a mesma. Professores sem dinheiro, merendas sendo roubadas, caixa escolar vazia, escolas sucateadas e por aí vai. Uma tristeza.
Há algum tempo, o noticiário deu-nos conta de que em Juazeiro do Norte o Município teria reduzido 40% do salário dos professores, o que causou choro e revolta dos profissionais. Fico imaginando o que sente um político que vota uma matéria dessas.
Dias atrás, estava “bombando” o RX da educação. O jornal (A Gazeta) anuncia: “O Estado fica em 1º no ranking nacional, mas meta não é alcançada”. Como alcançar meta com tanta dificuldade? E, mais, a reportagem fala de escolas campeãs. Não são as que mais têm dinheiro, mas as que têm foco na valorização do professor e na aprendizagem.
Então, o recado está dado: o foco na aprendizagem e a valorização do professor. Creio nisso e espero que nossos governantes, quando estiverem lendo e escrevendo, pensem em quem lhes ensinou.
As minhas andanças pelas escolas, com o trabalho voluntário que coordeno no Estado (Programa Trabalho, Justiça e Cidadania) trazem muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Alegro-me quando vejo professores comprometidos, vocacionados, entusiastas, cuidando de alunos com necessidades especiais, ou indisciplinados a mais não poder, que é a regra de nossos adolescentes sem limite. Entristeço-me quando vejo professores desmotivados, que vão para as salas, cumprem a obrigação mal cumprida, e se vão, sem o menor pudor ou remorso. Não querem nem olhar para trás. Com tanto problema, não é de se admirar a falta de entusiasmo de muitos. É a humanidade deles falando mais alto. Quem pode condená-los?
Ali, embora cada um deles seja um aprendiz dos ensinamentos do professor e da mensagem que o TJC leva, o aprendizado maior é nosso, porque vemos um mundo em que, apesar de todas as dificuldades, da luta e do sofrimento, ninguém quer abandonar a batalha porque espera uma vida melhor.
A maioria dos professores trabalha em mais de uma escola. À noite, já estão cansados (sinto isso quando olho para aqueles rostos que, mesmo assim, sorriem para mim) e têm que lidar com essa realidade difícil. Acho que eles, para encontrar forças, como diz a música de Padre Fábio de Melo, em noite de céu apagado, desenham estrelas no chão…
Volto pra casa, eu, a mais imperfeita dos imperfeitos, pedindo a Deus uma mente aberta e liberta para continuar em construção.
Maria Francisca – novembro de 2018.
Adélia Prado disse que a mulher é desdobrável. Mas que ainda é uma espécie envergonhada. Às vezes, pergunto-me: Por quê? Não é um paradoxo? Ao mesmo tempo em que consegue fazer mil coisas, há coisas que não consegue fazer… Por exemplo, livrar-se de um companheiro violento. Vemos tantas mulheres sendo massacradas e mortas todos os dias. Será que isso é amor? Outro exemplo: disputar cargos com homens. Quem há de?
Historicamente, a mulher foi massacrada. Era educada para ser esposa e mãe. Profissão, só professora, mesmo assim, as ricas, não. Teriam marido rico que as sustentasse.
Vejamos:
Desde 1821, temos eleição no Brasil. Indireta, ou direta, mas eleição. Somente em 1933, a mulher pôde votar em âmbito nacional, quando o Código eleitoral de 1932 deixou explícito o direito/dever.
A segunda guerra mundial que durou de 1939 a 1945 teve muitas mulheres nas trincheiras, mas como a história sempre foi contada pelos homens, ninguém tomava conhecimento disso. Alecsievitch Svetlana no livro “A guerra não tem rosto de mulher” fala dessas mulheres guerreiras que lutavam ao lado dos homens, vestidas como homens.
E quem sabia disso?
Agora, vindo para 1964, com o início da ditadura militar. Eu tinha 15 anos e participava de movimento estudantil, denominado JEC (Juventude estudantil católica). Havia a JEC, a JOC (Juventude operária) e a JUC (juventude universitária). O movimento era católico, mas discutíamos o país em nossas reuniões.
Com a revolução, tudo isso foi desmantelado, porque éramos considerados comunistas, quando até tínhamos medo do comunismo. Aliás, queríamos apenas um Brasil melhor. Nossos dirigentes foram presos, desaparecidos alguns, casas de diretores da União estudantil reviradas. Ficamos todos acuados.
Heloísa Buarque de Holanda, escritora e crítica literária, prefaciando a obra “Morangos mofados” de Caio Abreu, disse que a juventude radicalizada, no final dos anos 60 tinha dois caminhos: a luta armada ou o desbunde.
Muitas mulheres foram, sim, para a luta armada, presas, torturadas, mortas. Sabemos disso. Daqui do ES, por exemplo, temos a história da Miriam Leitão.
A minha geração foi aquela que começou a revolução feminina, queimando sutiens, mas isso foi nas capitais do país. No interior? Desbunde? Deus nos livre de mulheres assim. Todas doidas.
Então, do interior, e aluna de colégio de freiras, onde a lavagem cerebral era a tônica, mulher alguma foi para o desbunde, tampouco para a luta armada. Ficou foi acuada, repito, porque era vigiada pelas forças da ditadura, prontas para levar quem tivesse, em casa, o que consideravam arma letal: livros ditos comunistas.
Nossa cultura era esta: a mulher foi feita para o lar. Para ter filhos, educá-los, cuidar do marido…
O tempo passou e ainda hoje, a mulher repete aquela famosa frase: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Por quê?
É interessante o seguinte: quando depende da capacidade intelectual da mulher, ela deslancha. Quando depende de eleição ou indicação, de disputa, ela perde. Por quê? Justamente pela nossa cultura. Pela discriminação que ainda existe contra a mulher e pela própria mulher. É só ver a quantidade de mulheres nas universidades em todos os cursos.
Quantas são executivas? Muitas, mas ainda poucas em relação aos homens.
Quantas mulheres na cúpula do Judiciário? O STF, por exemplo, foi criado em 1890. Só no ano de 2000, a primeira mulher foi nomeada, a Ministra Helen Grace, que foi a primeira mulher a se tornar Presidente daquela Corte de Justiça. Hoje, são 11 ministros e duas mulheres, apenas.
Na Magistratura do Estadual do ES. As magistradas são quase 50% do total de juízes. São mais de 100 mulheres no primeiro grau. Apenas 3 estão no TJ que é composto de 28 membros, ou seja, são 25 homens e 3 mulheres apenas.
Na magistratura do Trabalho, um pouquinho mais democrática, são 56 juízes no primeiro grau, sendo 25 mulheres. No Tribunal são 12 desembargadores e apenas 4 mulheres.
Na política, a situação não é muito diferente.
Em 2018, 52% dos eleitores são do sexo feminino, conforme estatística do TSE. Por que as mulheres são minoria em cargos eletivos?
Em Vitória, por exemplo, há anos, sempre a Neuzinha como única vereadora. Luzia Toledo já foi vice-prefeita, mas já tivemos mulher à frente do Município? Em Vila Velha, só na última eleição 3 mulheres foram eleitas vereadoras, ou seja, 20% quando os homens ficaram com 80% das vagas.
Nas eleições de 2018, duas mulheres foram candidatas ao Senado. Uma ficou com 4,60 % dos votos e a outra com apenas 0, 64%. Claro, vencidas. Para a Câmara Federal três mulheres foram eleitas, ou seja, 30% apenas. Já para a Assembleia Legislativa, 3 mulheres foram eleitas, percentual menor (10%) do que para a Câmara Federal.
A coluna de Ascânio Seleme, de 01/07/2018, do Jornal A Gazeta, publicou uma pesquisa sobre os motivos para as mulheres não se candidatarem, de acordo com elas mesmas, seriam falta de jeito para isso, criação dos filhos, tarefas domésticas, oposição do marido etc.
Nas associações de classe, da mesma forma.
Nas associações de juízes, por exemplo. No Estado do Espírito Santo, a AMAGES tem 50 anos de existência, até hoje, apenas uma mulher a presidiu.
A AMATRA (Associação dos Juizes do Trabalho do ES) tem 26 anos. Nenhuma mulher a presidiu até hoje. Muitas foram vice, inclusive eu, duas vezes. A ANAMATRA (Associação Nacional) tem 40 anos, até hoje 3 mulheres foram presidentes.
Na Associação dos Magistrados Brasileiros, que congrega todos os juízes do Brasil, nunca houve uma mulher na Presidência. E fundada há 67 anos.
Na AJUFE (dos juízes federais) fundada em 1972, com 46 anos de fundação, nunca houve mulher na Presidência.
Por quê?
Porque nós somos uma espécie envergonhada como diz Adélia Prado. Porque deixamos que isso aconteça. Umas por comodismo, outras por medo. Outras preferem ficar pelos cantos reclamando que não conseguiram isso e aquilo, porque a sociedade boicota, porque os homens não deixam, porque, porque, porque. Eternas desculpas.
Nada contra mulheres que se dedicam apenas ao lar e são felizes. Mas não podem optar por isso e depois chorar o leite derramado.
Vamos ficar assim para sempre?
Maria Francisca – outubro de 2018.

Que “Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração”, como diz a bela canção do Milton, todos já sabemos, mas e aquele amigo tão chato, tão chato, que ninguém mais aguenta?
Em primeiro lugar, amigo é amigo, chato ou não.
Pensei nisso, hoje, porque vi a tirinha de “Os Passarinhos” do Estêvão, no caderno 2, do Jornal A Gazeta e lembrei-me (“No pensamento a gente voa”) do meu amigo Barzilai. Quando um de nós estava muito chato, ele dizia: O que fazer? A gente não escolhe os amigos que tem.
Era uma brincadeira, mas serve para uma reflexão.
Claro que escolhemos nossos amigos, entretanto, há pessoas que podem ser chatas a mais não poder e têm tantas outras qualidades, como competência, lealdade, solidariedade, que esquecemos sua chatice. Muitas vezes, temos vontade de sair de perto, mas como deixar um amigo falando sozinho?
Em tempo de polarização política, dá vontade de deixar o amigo falando sozinho, sim, quando insiste em certas ideias, como a tentar fazer-lhe mudar de opinião, bandear para o lado que ele quer. E se o amigo não tiver “desconfiômetro”, característica do chato?
Uma amiga, disse-me: logo você, uma pessoa esclarecida, pensar dessa forma? Rápido, lembrei-me de Schopenhauer no livro “Como vencer um debate sem ter razão”, porque, em verdade, ela alertava-me sobre minha atitude (segundo ela) burra. Então, para não brigar com ela (burra, eu?) brinquei: Mire-se no espelho e veja a aparência de que se revestiu, falando isso comigo. Olhe sua cara. Raivosa. Desse jeito, você nunca vai me convencer.
Aí está o x da questão. Escolhi aquela chatice? Não. Escolhi o amigo e ele vem com tudo: qualidades e defeitos, como todos nós. Não somos tachados muitas vezes, da mesma forma? E quem garante que não somos assim?
Pois bem. Tenho alguns amigos que muita gente acha chatos e me diz: como você aguenta? Respondo: Gosto deles, são meus amigos. E ponto final.
Quem sabe um amigo chato não nos ajudará a melhorar nossa paciência e tolerância com os diferentes, como disse o Hector, o dito chato, ao Afonso, o amigo ácido, na tirinha do Estêvão Ribeiro?
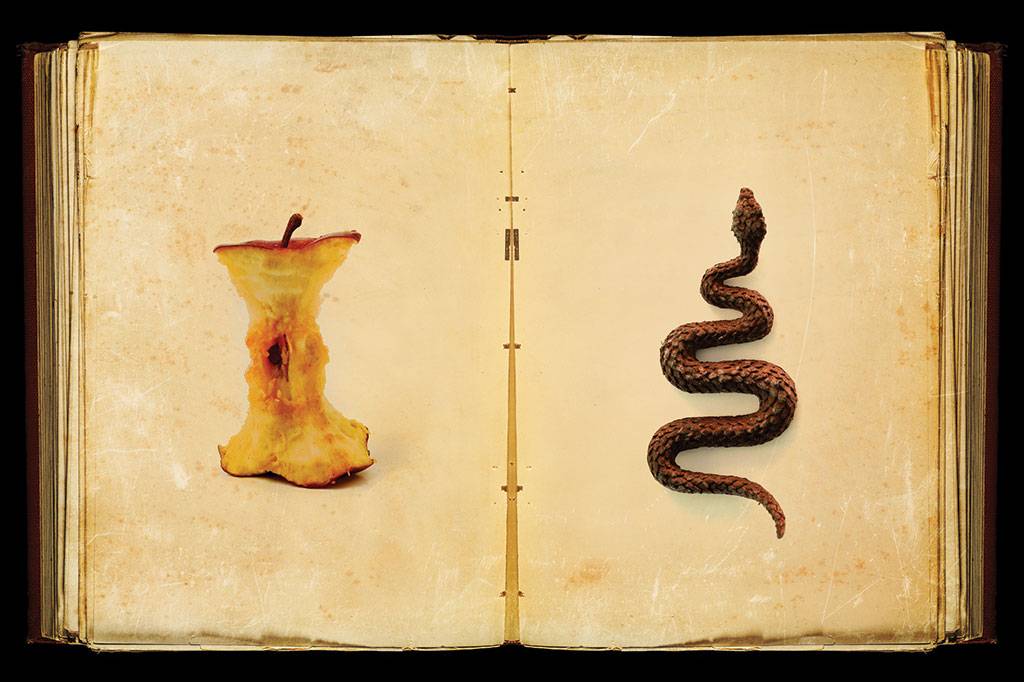 Avareza
Avareza
Era um velho rico, mas nada tinha. Meu dinheiro? Será quanto ganhei hoje? Tempo de inflação alta, ia ao Banco todos os dias. Malvestido, acomodava-se numa cadeira, lá, como a cuidar da fortuna, mas de olho em tudo ao redor. Matador profissional, juntou dinheiro, sem amealhar amigos. Sem família, sofria. O medo dominava seus dias. Sentia medo e metia medo. Foi-se num dia de chuva. Ninguém quis saber a causa e ninguém acompanhou o féretro indigente, senão sua magra cachorrinha.
Gula
Andava penosamente rua afora, devorando uma pizza. As pernas já não aguentavam o peso daquele corpo enorme. Menino magricela, sua maldição: “Comer para crescer”. Comeu e cresceu até demais, mas alimentos perseguiam-no. Até nos sonhos sentia os cheiros. Ah! Culpa dos cheiros. Comendo voluptuosamente, distraiu-se. Não viu um seguidor à espreita. Um cão faminto viu o homem, viu o alimento, sentiu o cheiro… zaz! Num átimo, o guloso ficou a ver navios.
Inveja
Cantada em prosa e verso, por todos, a promoção de uma colega transformou Estela num espectro de gente: silenciosa, encolhida, sofrida. Relembrar o fato era um tormento, um prato indigesto. Por que ela? Remoía-se. Até que viu um extrato bancário na mesa da colega. A gota d’água: Apanhou-o, examinou-o e, raivosa, como o Mouro de Veneza, bradou: guarde seu extrato, rica. Derretida em lágrimas, trancou-se em casa, doente de solidão e tristeza, suas únicas e sinistras companhias.
Ira
Vai, depressa, dá uma surra nele, fala uma voz do lado esquerdo do ouvido do José. Não vai, não, fala outra voz, do lado direito, bem baixinho. Vou, não vou… Foi ele que espalhou aquelas notícias. E ainda foi rude. Não. Ele falou sem querer. E, agora? Vou, não vou… Vai, vai… Já espumando: ele vai me pagar. POFT! Um barulho se fez ouvir e Justo caiu estatelado no chão. Nesse momento, um rabinho balança, sorrateiro e feliz, no ombro esquerdo de José.
Luxúria
Suado, rolava na cama, de frente com sua verdade: o desejo sufocava-o. Queria sair, procurar refrigério nalguma bodega. Sem forças, remexia-se, desvestindo-se para refrescar-se, e deu de cara com a nudez convidativa de bela mulher a seu lado. Agarrou-a feliz, mas um grito agudo acordou-o. A respiração ofegante, o corpo tremendo, num frenesi de volúpia e medo, levantou-se, tentando acalmar-se. Foi beber um gole d’água. Na sala, a mulher, nua, olhar enigmático, pose de Hedonê, tomava champanhe.
Preguiça
Derramou-se na rede, o sono derramado no corpo. Cabeça, ombro, joelho e pé, tudo estagnado, como se fosse o próprio Hipnos. Uma brisa leve balançou as folhas das árvores e tocou seus cabelos. Não preciso de mais nada, aqui terei silêncio e paz. Palavras me cansam, falava de si para si. Trabalhar é tarefa pesada. Longe de casa… não tenho asas nos pés, nem sou herói. A vida é curta. Agora não. Depois, talvez depois, crie algo bom, se Palamedes vier em meu socorro.
Soberba
Qual mula madrinha, de arreios vistosos e cincerro tilintante, a encabeçar a tropa de feitos da ditadura, entrou, de repente, na sala e trovejou: Saiam já, senão, prendo todas. Não sabem que reuniões estão proibidas? As professoras entreolharam-se e foram saindo silenciosas e cabisbaixas…

Artigo de Sardenberg, há pouco tempo, falava sobre corrupção. De pequenas coisas que vão se avolumando, crescendo… “O que há por trás disso, antes de se falar em corrupção? A falta do “sentido da coisa pública”. O cliente do INSS acha que não tem nada demais cavar um auxílio-doença. O médico, apressado, com uma fila enorme para atender, vacila, mas, vá lá. […] . “Se não tem responsabilidade pública, se a gestão é frouxa, se parece que ninguém está ligando a mínima, por que não botar a mão na grana de verdade?”.
Isso ocorre, sim, concordo com ele, mas em todos os espaços. É o jeito brasileiro (nem sei se é só brasileiro) de fazer as coisas. Começa aos poucos e vai se alastrando na vida do indivíduo pela certeza de não ser punido. Deu certo uma vez, duas e, assim vai.
Li uma reportagem que fala sobre vazamentos de trabalhos gravados que ainda não foram ao ar. As pessoas roubam as cenas e vendem a revistas, jornais etc. Numa entrevista, o sujeito que usava dessa estratégia, não aparecendo, claro, disse que todos faziam, ele resolveu fazer também. Ninguém via, fez diversas vezes, deu certo, agora ganha um bom dinheiro.
Em Belo Horizonte, há muitos anos, precisei de uma procuração por instrumento público, telefonei para o cartório, falei que precisava do documento naquele dia, deram-me o preço. Na hora marcada, conversei com a escrivã, informei meus dados, o do procurador, os termos do mandato, como de praxe, e ela me deu a nota para pagar. Vi que o valor era menor e disse isso. Recebi a explicação de que ela havia errado no preço. Quando cheguei ao caixa com aquela nota, o caixa falou alto para a moça que me dera a nota: a nota está errada. E a taxa extra? Que taxa extra, você está doido? Foi a resposta dela. Ele ainda insistiu: não era urgente? Que é isso, rapaz? Foi a resposta e o caixa calou-se. Aí, percebi que teria uma taxa extra, mas ela, ao ver a minha carteira de juíza, retirou-a, mais do que depressa. Era um pequeno valor. Bicho miúdo? Não sei.
Mas esses dias ouvi uma história que me causou arrepio. Um amigo estava desempregado e disse que procurou trabalho de gari. Um amigo dele, pobre como ele, prometeu arranjar o trabalho, mas ele precisaria pagar trezentos reais para conseguir o emprego. Dá para acreditar nisso? Pobre explorando pobre.
Os grandes atos corruptos, aliás, nem sei se podemos dizer grandes ou pequenos, porque todos são horríveis, vemos todos os dias nas notícias, ainda mais de uns tempos para cá, com as redes sociais de vento em popa.
Os casos que relatei podem ser bicho miúdo, na visão de Sardenberg, mas esses “pequenos” atos sórdidos vão crescendo, crescendo… E depois, ninguém segura.
Qual será o remédio para esses males, doutor?
Fico a pensar.
Maria Francisca – agosto de 2018.

Diz Eduardo Galeano (Desmemória/3, in Livro dos Abraços) que, nas Ilhas Francesas do Caribe, Napoleão restabeleceu a escravidão, em 1801. A sangue e fogo, teria ele obrigado os negros livres a voltarem a ser escravos nas plantações.
Lemos essas histórias e ficamos arrepiados. Lembramos das agruras por que passaram nossos negros escravos que, segundo pensamos, foram libertados. Leonardo Boff (“A Gazeta” de 22.02.2017), questiona: No Brasil, fizemos a abolição da escravidão, mas quando faremos a abolição da fome”? E acrescenta: “Cerca de metade da humanidade vive em situação de penúria, seja com pobreza extrema, seja simplesmente com pobreza, ao lado da mais aviltante riqueza”.
Será que abolimos, mesmo, a escravidão? Não. Como a fome ainda não foi abolida, trabalhadores livres, negros ou não, vivem submetidos à escravidão contemporânea, violação dos direitos humanos reconhecida pelo Brasil, por pressão de organismos internacionais, em 1995.
Famílias inteiras são recrutadas em cidades do interior, onde a mão de obra é farta e o emprego raro, com promessa de trabalho, moradia e salário. Cheios de esperança, a pobreza extrema cria oásis de prosperidade na imaginação dessas pessoas, levando-as a acreditarem numa vida melhor, em qualquer lugar fora dali. E lá vão eles todos para a colheita de café, o corte de cana, as carvoarias e até para fábricas de roupas. Lá, não há o paraíso esperado. Passam a viver como escravos. Sem correntes, mas sem liberdade, sem dignidade, explorados.
Como exemplo, numa fiscalização em Sooretama (ES) em 2014, os auditores encontraram esgoto aberto, passando por dentro de um dos abrigos e sendo despejado ao lado dos dormitórios. Os trabalhadores, segundo contaram, dormiam e alimentavam-se junto àquela sujeira, sentindo o cheiro horrível que dali emanava. Recentemente, auditores Fiscais, acompanhados da Polícia Federal libertaram uma família de nove pessoas vivendo em condição degradante em Brejetuba (ES).
Todos conhecem as histórias dos imigrantes estrangeiros nas confecções em São Paulo, fartamente divulgadas pela imprensa. Muitas vezes adquirimos essas roupas a baixo preço, sem saber que mãos calosas, sofridas e famintas esperam por essa vida digna, onde todos são iguais, prometida pela Constituição da República.
É inacreditável: não podem sair desses trabalhos degradantes? Muita gente se pergunta. Por que não fogem? O pior é que, por falta de políticas públicas, os que conseguem fugir, mesmo correndo risco de vida, ou os que são libertados pelas autoridades, tendem a retornar a sua cidade de origem, na mesma miséria, facilitando novo aliciamento para outro trabalho, onde serão novamente explorados, perpetuando o ciclo infame.
E os que permanecem nesse trabalho-castigo, sem vez e voz, trabalham, trabalham, esperando, por sua própria luta, poder um dia sair daquele sofrimento, libertar-se, mas nunca conseguem pagar a dívida da viagem e da comida e até das ferramentas. Valores sempre maiores do que recebem de seus empregadores invisíveis: contratados por um, trabalham para outro, parceiro de outro que terceirizou o corte de cana, o serviço da carvoaria ou, mesmo, a confecção da roupa. É como no poema “A quadrilha” de Drummond: “João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história”.
Quando são encontrados em condição degradante, difícil descobrir o responsável por aquela história real. O dono da empresa (ou fazenda) é sempre o J. Pinto Fernandes, do Drummond: não entrou na história. Aparece como o inocente, não fez nada, arrendou o imóvel, terceirizou os serviços etc.
Só nos resta reconhecer, como os “heróis” de George Orwell – Todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros.
Até quando?
Maria Francisca – Publicado em dezembro de 2017, na Revista Literária Café-com-Letras, Ano 15, nº 15.

Vó, você sabe fazer calda de chocolate? Não, Leozinho, por quê? É porque eu queria…Se você me ensinar, eu faço. Então, tá. Preste atenção, vó: Um copo de água, duas colheres de leite em pó, duas colheres de mucilon, uma colher de toddy. Mexa bem e está pronto. Fácil, não é? Isso sem tirar os olhos da TV, porque estaria jogando um jogo muito importante. E, até aquele momento, segundo ele, eu não poderia sair de perto, porque atuava como sua assistente.
Com a permissão do “chefe”, fui pra cozinha, fiz a tal calda de chocolate, Leozinho experimentou e disse: Está uma delícia. Você caprichou! Sabe por que ficou gostosa, Leozinho? Porque foi você quem me ensinou. Ele, concentrado no joguinho, sorrindo: É?
Como disse Leozinho, de vez em quando, capricho. Arvoro-me em boa cozinheira. Gosto, sei fazer alguma coisa, mas não tenho aquela prática de fazer tudo rápido, gostoso e bonito, como uma boa gourmet o faria.
Tenho meus truques, claro. Na primeira vez de uma receita, cumpro todo o ritual. Depois, vou mudando aqui e ali, até ficar do meu jeito.
Mas não sei se acontece com você o que acontece comigo. Quando copio uma receita de uma pessoa de quem gosto muito, a comida fica uma delícia. Foi por isso que falei com Leozinho que a calda ficou gostosa. Foi ele quem me ensinou, ora.
O certo é que as receitas ensinadas pelos amigos ficam todas gostosas, mas há duas que merecem maior registro. Não erro nunca. Uma é de uma tortinha de frango da Zilá, minha comadre. É muito gostosa. Todos saboreiam com prazer. Faço de vez em quando. A outra é a broa da Janice, outra comadre querida. Ela diz que a receita não é dela. Não interessa. Já está registrada assim: Broa da Janice. Os direitos autorais desta feita que se cuidem…
Veja como tenho razão. O filme “Como água para chocolate”, baseado no livro homônimo, conta a história de Tita, uma moça que proporcionava afetos e sensações para quem tinha o privilégio de desfrutar de seus pratos. Ela transmitia para a comida os sentimentos que nutria no momento em que trabalhava aqueles quitutes. Com as adversidades da vida, nem sempre Tita estava feliz. Ocorreu que fazendo um bolo de casamento, Tita estava tão infeliz, que deixou cair lágrimas na massa do bolo, adoecendo todas as pessoas que dele comeram.
Explicado está como as receitas dessas minhas amigas ficam gostosas. Ali está o amor e o carinho que tenho por elas. Então, a calda de chocolate do Leozinho não tinha, mesmo, como ficar ruim.
O resultado final é de “dotô cumê e lambê os beiço”, como diria um velho amigo de minha mãe.
Publicada, inicialmente, no Facebook.
Maria Francisca – abril de 2016.
 Dizem que os velhos são todos teimosos. E são, mesmo. Eu sou. Mas esses, dessa história que me contaram, passam da medida, como diria minha mãe.
Dizem que os velhos são todos teimosos. E são, mesmo. Eu sou. Mas esses, dessa história que me contaram, passam da medida, como diria minha mãe.
Casados há mais de 60 anos, Mariana e Joaquim viviam numa cidadezinha, aliás, numa Vila, nos confins de Minas Gerais. Não em Confins, onde fica o aeroporto Tancredo Neves, mas num fim de mundo, num cacha prego, talvez um lugar parecido com o do personagem Crisóstomo, de Valter Hugo Mãe. Só não seria à beira-mar, porque, como se sabe, Minas só tem “Mar de Espanha”.
Pois bem. Viviam ali tranquilamente. Dividiam as tarefas domésticas. Saiam só para ir à Igreja, mesmo assim, de manhã. Dormiam cedo, como a maioria dos idosos. Recebiam só a visita dos vizinhos que ali acorriam quando necessário. Não se sabia se tinham parentes, porque nunca se viu alguém por lá.
Num dia muito frio, foram deitar-se mais cedo do que de costume.
Estavam quase dormindo, quando Mariana lembrou-se: Joaquim, você fechou aporta? Eu não, respondeu. Então vá fechar, porque ficou aberta. Com esse frio? Vá você, Mariana. Não. Vá você.
E assim ficaram teimando, teimando, até que resolveram: Vamos fazer uma aposta: Quem conversar primeiro fecha a porta. E silenciaram, cada um vigiando o outro.
O tempo passava, nenhum falava… e a porta esperando.
Já bem tarde, os vizinhos voltavam da festa junina e repararam a porta aberta. Assustaram-se. Ainda mais tudo escuro.
Pé ante pé, foram entrando na casa e sentindo aquele silêncio soturno, até chegarem ao quarto do casal e darem com eles ali quietinhos. Será que estão mortos? Com muito medo, acenderam as luzes e viram que estavam vivos. Falaram alto, chamaram-nos pelos nomes, gritaram…Silêncio. Atônitos, mandaram um mensageiro, correndo, chamar o médico, que veio afoito, já trazendo toda a parafernália de que dispunha em casa, como único médico daquela Vila.
Ausculta-os, apalpa aqui, apalpa acolá… olha a pressão, olha a temperatura e nada encontra. Nessa altura, a vila toda já estava por ali: uns por curiosidade, outros para ajudar e outros por nada. O médico, então, falou com a vizinha que o havia chamado: Vai ser o jeito dar uma injeção de “5 HTP”. Quem sabe eles acordam?
Preparou a injeção e pensou alto: Em quem aplico primeiro? Joaquim, que morria de medo de injeção, deu um pulo e gritou: NELA! Ela sentou-se na cama, deu boa noite a todos, na maior tranquilidade, e disse: Viu? Não adiantou nada. Vai ter que fechar a porta.
E silenciaram. Por mais que perguntassem o que houve, nem Seu Joaquim, nem Dona Mariana responderam. Nem ao médico quiseram responder. Ou melhor, deram de calado a resposta, como diria uma amiga.
Então, foram todos saindo decepcionados e silentes. E imagino mais: com uma raiva danada daqueles velhos teimosos.
Até hoje, naquela Vila, agora cidade, mesmo tendo uma rua só, como muitas em MG, comenta-se essa história que, de tanto ser contata, tem-se por verdadeira.